Por Eric Silva
03 de fevereiro de 2019
“Quem se torna senhor de uma cidade habituada a viver em liberdade e não a destrói, espera para ser destruído por ela”.
(Maquiavel)
Está sem tempo para
ler? Ouça a nossa resenha, basta clicar no play.
Fabulosas, oníricas e metafísicas As Cidades Invisíveis de Italo Calvino compõem um livro único e
difícil de descrever pela sua singularidade, originalidade e poética.
Sinopse
do enredo
Século XIII. Após muitos anos
de viagem pelas longínquas terras do oriente, o mercador e explorador veneziano
Marco Polo chega ao império de Kublai Khan, o quinto soberano do Império Mongol[1].
Ali Marco Polo viveria por 17 anos como diplomata na corte de Khan e viajaria
pelos extensos domínios do imperador dos tártaros, contando depois em seus
escritos as aventuras e as belezas que encontrou por aquelas paragens.
Influenciado pelo realismo
mágico que ganhava força na literatura sul-americana e inspirado pelas
aventuras do aventureiro veneziano, Ítalo Calvino imagina um diálogo fantástico
entre Kublai Khan e Marco Polo, no qual este descreve ao imperador mais de
cinquenta cidades extraordinárias que mais parecem existir nos sonhos e na
imaginação do navegador italiano.
Misturando sonho, fantasia,
um pouco de poesia e diálogos filosóficos, Calvino vai narrando nesse pequeno
livro cada uma daquelas cidades tão fantásticas quanto impossíveis, mas que são
retratos figurativos e alegóricos da própria existência humana.
Resenha
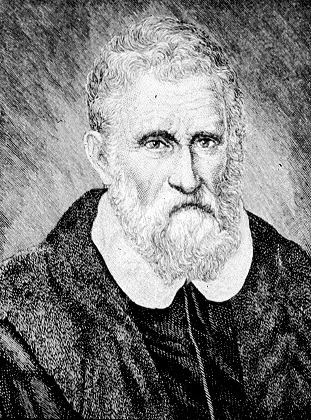 |
| Marco Polo em retrato póstumo feito em cerca de 1600. Imagem: Wikimedia Commons. |
Marco começou suas viagens como explorador pelo Oriente quando
ainda tinha 17 anos e embarcou em uma viagem para a Ásia com seu pai e tio,
Niccolò e Maffeo Polo, só retornando a Veneza, sua cidade natal, em 1295, 24
anos após partir[2]. Durante a longa viagem
pelas terras asiáticas o veneziano conheceria o maior império em área contígua da história[3], o
Império Mogol.
Posteriormente e já de volta a Europa, Marco relataria suas aventuras e os
anos durante os quais serviu como embaixador de Kublai Khan, em seu
livro, Il Milione (O milhão) mais
conhecido como As viagens de Marco Polo[4]. Inspirado nesse
livro de relatos de viagem, o escritor italiano Ítalo Calvino imagina em As
Cidades Invisíveis (Le città invisibili) como seriam os diálogos
entre Marco e o Khan enquanto este relatava as maravilhas de dezenas de cidades
que o explorador conhecera ao longo das suas muitas viagens pelo Oriente.
As Cidades Invisíveis é um livro de beleza muito peculiar e rara. Não é uma obra que chama a atenção por sua
trama, porque quase não há história. O que domina a peça são as descrições das
dezenas de cidades fabulosas que tão só poderiam existir na mente fértil de um
excelente escritor como Ítalo Calvino.
As cidades narradas por Marco Polo ao Khan são singulares,
extravagantes e oníricas e por isso parecem invisíveis, pertencendo ao campo
dos sonhos e da imaginação. Cada uma recebe o nome de uma mulher e são cidades
que desafiam as leis da natureza, da lógica e da razão. Nelas Calvino traz uma atmosfera
ilógica, trabalhando a questão do inverossímil, e ao mesmo tempo através delas
transfigura alegoricamente muitos dos sentimentos, contradições e desejos
humanos.
Ao fazer as descrições das cidades, Marco fala sobre seus
aspectos físicos, culturais, comportamentais, metafóricas e também metafísicos,
como bem observa Carmem Lúcia, do blog O
que Vi do Mundo, mas, ao mesmo tempo, tece nas entre linhas reflexões do
mundo em forma de metáforas e alegorias. Algumas das cidades são surrealistas e
parecem saídas de uma pintura de Salvador Dalí ou de René Magritte. O resultado são textos preciosos de alto
valor descritivo que tornam o livro complexo e ao mesmo tempo belo e
intraduzível.
Cada cidade contém sua própria singularidade e magia, mas em
alguns momentos ela se parecem, porque são divididas em categorias que se
repetem como “as cidades e a memória” e
“as cidades e o desejo”.
 |
| Kublai Khan. Retrato feito por Anige do Nepal, astrônomo, engenheiro, pintor e confidente de Kublai Khan Imagem: Wikimedia Commons. |
Ainda quero citar as cidades delgadas, que são, por sua vez, as
mais improváveis e impossíveis como as pinturas surrealistas de que falei. É o
caso de Otávia, cidade construída acima de um desfiladeiro entre duas montanhas
sustentadas por fios que as que servem de sustentáculo e passagem.
“Se quiserem acreditar, ótimo. Agora contarei
como é feita Otávia, cidade-teia-de-aranha. Existe um precipício no meio de
duas montanhas escarpadas: a cidade fica no vazio, ligada aos dois cumes por
fios e correntes e passarelas. Caminha-se em trilhos de madeira, atentando para
não enfiar o pé nos intervalos, ou agarra-se aos fios de cânhamo. Abaixo não há
nada por centenas e centenas de metros: passam algumas nuvens; mais abaixo,
entrevê-se o fundo do desfiladeiro.
“Essa é a base da cidade: uma rede que serve de passagem e sustentáculo.
Todo o resto, em vez de se elevar, está pendurado para baixo: escadas de corda,
redes, casas em forma de saco, varais, terraços com a forma de navetas, odres
de água, bicos de gás, assadeiras, cestos pendurados com barbantes,
monta-cargas, chuveiros, trapézios e anéis para jogos, teleféricos,
lampadários, vasos com plantas de folhagem pendente.
“Suspensa sobre o abismo, a vida dos habitantes de Otávia é menos
incerta que a de outras cidades. Sabem que a rede não resistirá mais que isso”.
Essa foi uma das cidades que mais me chamou a atenção. Como se
vê o texto é puramente descritivo, como, porque assim como os escritos
originais de Marco Polo As Cidades
Invisíveis funciona como um relato de viagem cheia de descrições e com
pouco enredo. Só nas últimas cidades Ítalo insere o diálogo, elemento que
inexistia na dinâmica inicial dominada pela descrição, e o narrador também
passa a se colocar mais no texto. Até então o diálogo só existia nas passagens
onde o veneziano e o Khan conversavam.
Por ter um estilo de diário de viagem, As Cidades Invisíveis não segue a lógica e a estrutura da narração
que normalmente é composto de problemática, clímax e desfecho, o que compõe o
enredo. Ainda assim, é uma obra cuja divisão dos seus capítulos se torna uma característica
única do próprio livro.
O livro é dividido em 9 capítulos que funcionam como blocos onde
temos – intercalado a história de Marco Polo e Kublai Khan – a descrição das
chamadas cidades invisíveis em subcapítulos pequenos e independentes. Esses subcapítulos
falam cada um de uma nova cidade e cada título carrega algum aspecto que de
alguma forma se relaciona as principais características dessa cidade mais um
número de 1 a 5 que representa quantas vezes aquele aspecto já foi referido.
Os diálogos de
Marco Polo e Kublai Khan também são sempre cheios de filosofia e aforismos.
Impossibilitado de conhecer a vastidão de seus domínios, o imperador ouve Marco
Polo com curiosidade e a través de seus relatos Kublai consegue conhecer as
várias partes que compõem o caleidoscópio do seu império e “discernir, através das muralhas e das torres
destinadas a desmoronar, a filigrana de um desenho tão fino a ponto de evitar
as mordidas dos cupins”.
Por diversas vezes o imperador expões seus pensamentos e angústias,
e também faz questionamentos sobre a veracidade do que lhe narra o embaixador
estrangeiro, mas, ainda assim, se mantém interessado e envolvido pelos relatos
fabulosos e oníricos de Marco. Apesar disso, os diálogos se dão por gestos e
sem o uso da palavra, uma vez que Marco desconhece a linguagem dos tártaros. Só
muito depois Marco Polo passa a verbalizar seus relatos, mas, ainda assim, a
linguagem gestual e figurativa continua viva e predominante nos seus diálogos
com o Khan.
A escrita de Ítalo é um pouco desafiante para aqueles que
leem pouco. Por vezes, metafórica ela é
também cheia de palavras singulares e distantes do nosso cotidiano. Poética, é
uma escrita cheia de construções imaginativas complexas e até mesmo
surrealistas o que me fez alguns momentos ficar um pouco perdido na leitura,
mas ainda assim não usa uma linguagem demasiadamente erudita.
O livro não parece ter pontos
fracos, porque é extremamente singular e único, mas nem por isso agrada a
todos. O que mais gostei foi a escrita
poética de Calvino e de sua imaginação surpreendente e liberta, que tornou o
livro original, instigante e criativo.
O desfecho do livro, assim como todo ele, é cheio de aforismos e
faz uma profunda reflexão sobre a vida. Ele não encerra de fato a narrativa,
mas encerra o ciclo de narrações que poderemos acompanhar. Por isso, em vez de
um final fechado, Ítalo nos dá uma reflexão encantadora e filosófica como
final:
“O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele que já
está aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando
juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria
das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de
percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas:
tentar saber reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é inferno, e
preservá-lo, e abrir espaço”.
Enfim, As Cidades
Invisíveis é um livro onírico, de sonhos, de construções imaginativas
requintadas e delicadas. Uma obra inteligente e singular, única e até certo
ponto indefinível e indescritível. Vale a pena ler.
A edição lida é da Editora
Companhia das Letras, do ano de 1990 e possui 152 páginas.
Sobre
o autor
Ítalo Calvino nasceu em Santiago de Las Vegas,
Cuba, em 15 de outubro de 1923, e foi para a Itália logo após o nascimento.
Formou-se em Letras e participou na resistência ao fascismo durante a Segunda
Guerra Mundial, tendo atuado muitos anos como militante e membro do Partido
Comunista Italiano, até que se desfilou-se em 1957.
Foi um dos mais importantes escritores italianos do
século XX e sua primeira obra foi Il
sentiero dei nidi di ragno (A trilha dos ninhos de aranha), publicada em
1947. Uma de suas obras mais conhecidas é Le
città invisibili (As cidades invisíveis), de 1972.
Morreu em Siena, em 19 de setembro de 1985.
Preview do Google Books
Abaixo você pode conferir uma prévia do livro disponível
no Google Books.
Postagens Relacionadas
Nosso Itinerário: livros resenhados
Listas e Postagens Especiais
Cinema
[1]
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kublai_Khan
[2]
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo#Primeiros_anos_e_viagem_para_a_%C3%81sia
[3]
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Mongol
[4]
https://pt.wikipedia.org/wiki/As_Viagens_de_Marco_Polo

















